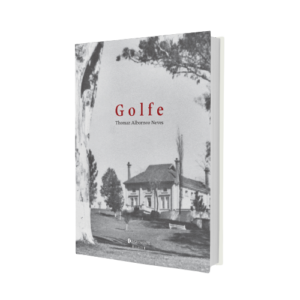O campo de golfe do Clube Campestre de Livramento está na margem do baixo São Paulo, bairro proletário há já algumas décadas esvaziado pelo fechamento da indústria frigorífica que lhe deu origem. O marasmo das ruas de terra batida do bairro continua no silêncio da cancha. Não há, como em muitos campos de golfe urbanos, aquela bolha florestal rodeada pelos ruídos do tráfego. Aqui, afora uma serra elétrica do lado de lá do arroio da Carolina ou o microfone de um pastor evangélico de garagem, a atmosfera não muda muito. Uma bicicleta, o cavalo da carroça, as motos de baixa cilindrada. E bota canto de galo e latido da cachorrada.
A mão de obra remanescente espera que algo aconteça, a zona franca, quem sabe. Ou que a indústria volte. O mais jovem anseia a idade do quartel para depois de servir ir trabalhar na serra ou na capital. Há pencas de crianças que estudam meio turno e de adolescentes do curso da noite vagando sem muito o que fazer além da pelada na pracinha e o skate, até que dê as 5 para a paquera da saída dos colégios. Isso do lado bom da coisa. O tédio e o ócio que levam alguns para o campo de golfe, caçar preás no banhado ou pescar nas lagoas, levam outros à marginalidade. O próprio clube está vago, durante a semana jogam meia dúzia, fim de semana menos de vinte.
Mas nem sempre foi assim. O circuito desenhado por José Maria Gonzales há mais de cem anos teve seu tempo mais dourado na década de 90, quando entre sócios e caddies somados batiam na bola regularmente quase 150 golfistas. E aqui introduzo um conceito chave, tanto quanto óbvio, para esta crônica. Para ser golfista nunca foi preciso pagar a mensalidade do Campestre. Para ser golfista, no Rincão da Carolina, basta o swing.
Nos anos 90, eu dizia, o golfe ajudava a completar a renda de dezenas de caddies do São Paulo. Os caddies, por sua vez, taqueavam com parentes e amigos num rústico circuito projetado por eles e mantido a boca de gado atrás da planta da Cooperativa de Carnes, a lendária “Cancha do Campinho”. Treinavam para as suas próprias disputas e para os torneios das segundas-feiras que eram muitas vezes apoiados pelos mesmos patrocinadores do torneio do final de semana no Campestre. Não demorou para que uma Comissão de Caddies fosse formada com a orientação do Professor de Golfe e a supervisão do Caddie Master, pois era comum o caddie usar o equipamento cedido por seu golfista. Esse arranjo era vantajoso para todos, mas especialmente para o campo de golfe.
A carreira de galgos do entardecer nas raias planas do 2 e do 5 começou enfim a ser corrida ao largo, poupando os greens. (Alguém já viu o rasgo que a unha de um galgo galopando deixa na bermuda?) Armas de ar comprimido, fundas e estilingues foram banidos do campo. A compulsão por botar fogo no monte de folhas varridas passou a ser reprimida pelos próprios incendiários com mais frequência que a habitual. Mutirões semanais eram organizados para repor os divots no campo, reparar os quiques e conter a invasão da poa annua nos greens…
Além do cuidado com a cancha, os golfistas do bairro absorveram a etiqueta e adquiriram conhecimento das regras. É notório que muitos dos melhores caddies que ainda hoje trabalham no Estado foram formados por essa experiência. O estreitamento das relações entre o São Paulo e o Campestre era celebrado na confraternização anual de entrega de prêmios do circuito paralelo no Clube Recreativo em que compareciam os patrocinadores dos torneios, funcionários do Campestre, sócios e caddies com as respectivas famílias.
Por volta de 1999, disputou-se o primeiro ranking da temporada dos caddies. Ficou estipulado que os dois primeiros colocados ganhariam uma bolsa para frequentar e treinar golfe no Campestre. Esses Aspirantes aprenderiam com o Professor a ensinar os fundamentos básicos do swing para os iniciantes entre as crianças carentes do bairro. Assim nasceu a escolinha “Boa-bola”.
Com o passar dos anos, os resultados alcançados pelos alunos no tour juvenil gaúcho suscitaram o apoio da FRGG que começou a subvencionar a “Boa-bola” com equipamentos, verba para os instrutores e bolsas de viagem e estadia nos Abertos do Estado. Concomitantemente, profissionais uruguaios e argentinos que visitavam o Campestre para ministrar suas clínicas, fisgados pelo projeto, abriram vagas aos Aspirantes nos torneios para profissionais dos seus clubes de origem. Esse acesso trouxe um importante elo à cadeia formadora permitindo a evolução daqueles em condições de competir num nível mais elevado. O próprio Campestre promoveu durante várias temporadas o seu Torneio Internacional de Profissionais, agendado entre as competições da PGA do Uruguai.
Se Mario Gonzales foi um raio no Rincão da Carolina – e sabemos que raios não caem no mesmo lugar -, golfistas como os profissionais Claudioir Guedes, o Fio, Paulo Jovane, o Panteão, Luís Silveira, o Baca e Maicon Paiva, o Mutuquinha, para citar alguns, e os atuais campeões amadores Sandro Gonçalves, o Nenê, e Herik Machado, o Galo Cinza, são peixes daquelas águas dos anos 90. Também os vários green keepers, starters e funcionários administrativos trabalhando na manutenção de campos e em clubes de golfe Brasil adentro vieram dali. Atentem, ninguém surge do nada. Existe toda uma cultura golfística na Carolina. Uma cultura já secular, estratificada ainda, é certo, mas com vazantes e cheias periódicas.
Há quem procure os vencedores para medir o êxito de um projeto que surgiu sem outra finalidade além da integração social através de um jogo estigmatizado por ser excludente e elitista. Falar da importância do esporte para a inclusão é tecla batida. Nem tanto se o esporte for o golfe. O especial conjunto dos seus valores, manifestados em cada mínima atitude tomada na cancha, molda o comportamento e norteia o caráter de quem, na infância, o pratica. E é claro que adoramos os campeões, mas se me fosse dado escolher eu ficaria com as dezenas de jovens sem talento para o swing que saíram desta cancha um pouco mais preparados para a vida do que entraram. Os outros peixinhos do cardume.
Por mais sobre golfe em